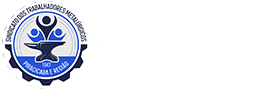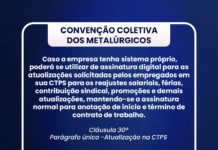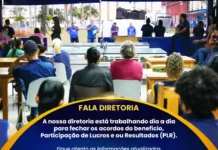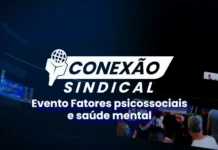Foi em 24 de maio de 1849 que nasceu a primeira pessoa escravizada registrada em Piracicaba (SP). Carolina, batizada em 3 de junho do mesmo ano, era filha de Antonia e escrava de Bento de Barros. Já passaram 169 anos desde que a informação foi escrita, a mão, em um livro de nascimento e batismo da Igreja Católica. Para o doutor em ciências sociais pela Unicamp, Luiz Fernando Amstalden, resgatar a história é fundamental para que a sociedade evite a negação aos erros do passado.
O documento que revela a história de Carolina está armazenado na Cúria Diocesana de Piracicaba e foi mostrado ao G1 para o Dia da Consciência Negra, nesta terça-feira (20).
Amstalden, que também é professor da Fundação Municipal de Ensino de Piracicaba (Fumep), afirma que a ausência de conhecimento da história possibilita, por exemplo, a afirmação de que preconceitos – como o racismo – não existem.
“Nós sabemos muito do Holocausto contra judeus, que nos choca, mas sabemos pouco do holocausto que foi a escravidão. Isso foi deliberadamente varrido para debaixo dos panos da história porque é uma coisa vergonhosa. Você resgatar a história da escravidão no Brasil e na cidade que vive é importante para reconhecer a divida histórica com os negros”, diz Amstalden.
Os registros
Segundo o monsenhor Jamil Nassif Abib, chanceler da Cúria, todas as pessoas escravizadas eram registradas na Igreja Católica, independentemente da crença religiosa que os pais tinham.
“A escolha do catolicismo nem sempre partia do coração deles, mas a importância era tirá-los do paganismo e colocá-lo na religião do Estado, proprietário do escravo”, explica Abib.
O G1 teve acesso aos livros, datados a partir de 1837, na Cúria Diocesana. Ao todo, são nove de batismo, três de casamento e um de óbito dos ex-escravos, sendo os registros das cidades de Piracicaba, Rio Claro (SP), Capivari (SP) e São Pedro (SP). No caso de Piracicaba, no entanto, estão disponíveis apenas os de nascimentos e batismos.
Abib explica que outros livros não estão arquivados porque, antes, a prioridade era armazenar apenas os dados de nascimento, importantes para a emissão de certidões.
Além disso, os documentos tinham apenas uma via, não sendo possível recuperar em caso de perda. Somente em 1920 eles começaram a ser arquivados em duas vias, de acordo com o monsenhor.
“Muita coisa se perdia. Não era algo exclusivo dos registros dos escravos, e apenas mais tarde começou a haver maior zelo”, explica o chanceler.
Registro tinha nome do ‘dono’, mostra diácono
Coordenador do Centro Documental da Diocese de Piracicaba, o diácono Marcos Roberto Nascimento mostrou ao G1 que os livros com registros dos escravizados eram separados dos que continham as informações das pessoas livres.
Cada documento tem cerca de 200 páginas e o formato de como os escravos eram registrados também se diferenciava. Eles tinham apenas o primeiro nome e constava quem eram os ‘donos’ deles.
“Isso era uma regra geral. Com o tempo, começou a haver o registro dos escravos nos mesmos livros das pessoas livres”, conta Nascimento.
Como construir o futuro sem reconhecer o passado?
O questionamento é do doutor em ciência sociais pela Unicamp. “Vale lembrar que nós perdemos parte monstruosa da história e que faz falta hoje para não mantermos velhos preconceitos. Nós temos que criar um país de futuro, mas para fazer o futuro nós precisamos reconhecer os problemas do passado, e a escravidão foi uma violência atroz”, diz Amstalden.
O estudioso usa a teoria do sociólogo polonês Zygmunt Bauman (1925-2017) para explicar o fato de que há, atualmente, quem negue a existência do racismo. “O sociólogo Bauman diz que a sociedade está tão individualizada que gera a noção de que só vale a minha verdade. Isso faz negar o racismo.”
Amstalden explica que, após a abolição da escravidão no Brasil, em 1888, os negros não foram absorvidos pela sociedade sequer para atuar no campo, já que os imigrantes europeus passaram a suprir a necessidade de mão-de-obra. “Mesmo após a abolição, não houve uma absorção dos ex-escravos mesmo no trabalho rural. Optou-se por uma ‘branquização’ do Brasil”.
Além disso, o ex-escravo que sempre atuou na monocultura não possuía a capacitação necessária para atuar em outros negócios que não no meio rural. “Claro que havia exceções, o carpinteiro, o marceneiro… mas de modo geral ficava na monocultura. Essa população foi renegada sem o capital cultural e sem o capital social na medida em que foram marginalizados enquanto negros”.
“O preconceito, que vem com a percepção do escravo, formado para desumanizar o negro, permaneceu. Até o capital social, as relações sociais eles deixaram de ter”, diz o cientista social.
*Sob supervisão de Arthur Menicucci, do G1 Piracicaba e Região